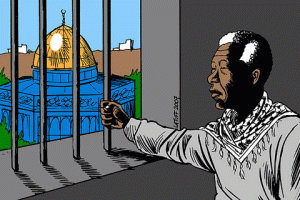Se Nelson Mandela tivesse realmente vencido, ele não seria visto como um herói universal. Mandela deve ter morrido como um homem amargo.
Para honrar seu legado, deveríamos nos focalizar nas promessas não cumpridas a que sua liderança deu origem.

Photograph: Media24/Gallo Images/Getty Images
Por: Slavoj Žižek
Fonte: The Guardian 09/12/2013
Tradução: Mario S. Mieli
Nas duas últimas décadas de sua vida, Nelson Mandela foi celebrado como um modelo de como liberar um país do jugo colonial sem sucumbir à tentação do poder ditatorial e do postulado anticapitalista. Em poucas palavras, Mandela não era Robert Mugabe, e a África do Sul permaneceu uma democracia multipartidária com uma imprensa livre e uma economia vibrante bem integrada no mercado global e imune aos precipitados experimentos socialistas. Agora, com sua morte, sua estatura de sábio santificado parece confirmada para a eternidade: não há filmes de Hollywood sobre ele – ele foi personificado por Morgan Freeman que, também, por sinal, representou o papel de Deus em outro filme; astros do rock e líderes religiosos, esportistas e políticos, de Bill Clinton a Fidel Castro, estão todos unidos em sua beatificação.
Entretanto, será que essa é a história toda? Dois fatos fundamentais permanecem obliterados por essa visão celebratória. Na África do Sul, a miserável vida da maioria de pobres fica em grande parte a mesma coisa que era durante o apartheid, e a ascensão dos direitos civis e políticos é contrabalançada pela crescente insegurança, violência e crime. A mudança principal é que a velha classe dominante branca está acompanhada da nova elite negra. Segundo, o povo se lembra do velho Congresso Nacional Africano que prometeu não somente o fim do apartheid, como também mais justiça social, até mesmo um tipo de socialismo. Esse CNA muito mais radical foi gradualmente obliterado de nossa memória. Não é de se admirar que a ira está aumentando entre os sul-africanos negros pobres.
Nesse sentido, a África do Sul é só uma versão da história recorrente da esquerda contemporânea. Um líder ou partido é eleito com entusiasmo universal, prometendo um “novo mundo” – mas daí, mais cedo ou mais tarde, eles tropeçam com o dilema fundamental: será que se pode ousar tocar nos mecanismos capitalistas, ou será melhor decidir “jogar o jogo”? Se alguém incomodar esses mecanismos, será logo “punido” pelas perturbações do mercado, pelo caos econômico e todo o resto. Por isso é demasiado simples criticar Mandela por ter abandonado a perspectiva socialista depois do fim do apartheid: será que ele tinha escolha? A guinada em direção ao socialismo era mesmo uma opção real?
É fácil ridicularizar Ayn Rand, mas há um grão de verdade no famoso “hino ao dinheiro” em seu livro Atlas Shrugged (A Revolta de Atlas): “Até, e a menos que você descubra que o dinheiro é a raiz de todo o bem, você está pedindo a sua própria destruição. Quando o dinheiro deixa de se tornar o meio pelo qual os homens lidam uns com os outros, então esses homens se tornam os instrumentos de outros homens. Sangue, chicotes e revólveres ou dólares. Faça sua escolha – não há outra. Não teria Marx dito algo semelhante em sua famosa fórmula de como, no universo de mercadorias, “as relações entre as pessoas assumem o disfarce de relações entre as coisas”?
Na economia de mercado, as relações entre as pessoas podem parecer como relações de liberdade e igualdade mutuamente reconhecidas: a dominação não é mais diretamente decretada e não é mais visível como tal. O que é problemático é a premissa subjacente de Rand: que a única escolha é entre relações de dominação e exploração diretas ou indiretas, sendo que qualquer outra alternativa é descartada como utópica. Todavia, deveríamos, não obstante, ter em mente que o momento de verdade naquilo que é, de outra forma, uma ridícula reivindicação ideológica de Rand: a grande lição do socialismo de estado foi, de fato, que a direta abolição da propriedade privada e das trocas reguladas pelo mercado, se faltarem as formas concretas de regulação social do processo de produção, necessariamente ressuscita relações diretas de servidão e dominação. Se meramente abolirmos o mercado (inclusive a exploração de mercado) sem substitui-lo com uma adequada forma de organização comunista da produção e troca, então volta a dominação com vingança, e com ela, a exploração direta.
A regra geral é que quando começa uma revolta contra um regime meio-democrático opressivo, como foi o caso no Oriente Médio em 2011, é fácil mobilizar grandes multidões com slogans que só podem ser caracterizados como agrados para a multidão – pela democracia, contra a corrupção, por exemplo. Mas daí, nos aproximamos gradualmente de escolhas mais difíceis, quando nossa revolta é bem sucedida em seu objetivo direto, e chegamos a compreender o que realmente nos incomodava (nossa não-liberdade, humilhação, corrupção social, falta de perspectiva de uma vida decente) continua sob novo disfarce. Nesse ponto, a ideologia dominante mobiliza seu inteiro arsenal para nos impedir de alcançar essa conclusão radical. Começam por nos dizer que a liberdade democrática traz sua própria responsabilidade, que isso vem com um preço, que ainda não estamos maduros se esperarmos muito da democracia. Dessa forma, eles nos culpam pelo nosso fracasso: numa sociedade livre, nos dizem, somos todos capitalistas investindo em nossas próprias vidas, decidindo alocar mais para nossa educação do que nos divertirmos, se quisermos ter sucesso.
Num nível mais diretamente político, a política externa dos EUA elaborou uma estratégia detalhada de como exercer o controle de danos recanalizando a revolta popular em aceitáveis restrições parlamentares-capitalistas – como foi feito com sucesso na África do Sul depois da queda do regime do apartheid, nas Filipinas depois da queda do Marcos, na Indonésia depois da queda do Suharto, assim como em outros lugares. Nessa precisa conjuntura, políticas emancipatórias radicais enfrentam o seu maior desafio: como levar as coisas adiante depois que o primeiro estágio entusiástico findou, como dar o próximo passo sem sucumbir à catástrofe da tentação “totalitária” – em poucas palavras, como ir além de Mandela sem se tornar Mugabe.
Se quisermos permanecer fiéis ao legado de Mandela, deveríamos esquecer as lágrimas de crocodilo celebratórias e nos centrar nas promessas não cumpridas a que sua liderança deu origem. Podemos conjeturar com segurança que, por conta de sua moral indubitável e grandeza política, ele era no final de sua vida, também um velho amargo, bem consciente de como seu próprio triunfo político e sua elevação a herói universal era a máscara de uma derrota amarga. Sua glória universal é também um sinal de que ele realmente não incomodou a ordem global do poder.