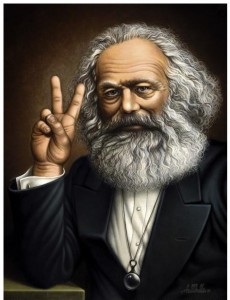A era das revoltas burguesas
Por Slavoj Žižek
Fonte: internazionale.it n. 937, de 24 de fevereiro de 2012
Tradução: Mario S. Mieli

Grosz
Como Bill Gates conseguiu tornar-se o homem mais rico da América? Sua riqueza não tem nada a ver com a produção de software de qualidade a preços inferiores aos da concorrência ou com a “exploração” mais eficaz de seus funcionários (a Microsoft paga salários relativamente altos aos trabalhadores intelectuais).
O software da Microsoft continua a ser comprado por milhões de pessoas porque conseguiu impor-se como um padrão quase universal monopolizando, na prática, o setor, quase uma personificação daquilo que Marx chamava de “intelecto geral”, referindo-se ao saber coletivo em todas as suas formas, da ciência ao know-how prático. Bill Gates efetivamente privatizou o intelecto geral e enriqueceu embolsando os lucros.
A possibilidade de privatizar o intelecto geral não tinha sido prevista por Marx em seus escritos sobre o capitalismo (sobretudo porque tinha negligenciado a dimensão social). Mas é justamente esse o núcleo das disputas contemporâneas sobre propriedade intelectual: à medida que, no capitalismo pós-industrial, o papel do intelecto geral – baseado no saber coletivo e na cooperação social – continua a crescer, a riqueza se acumula de modo totalmente desproporcional respeito ao trabalho despendido para a sua produção. O resultado não é, como parecia esperar Marx, a autodissolução do capitalismo, mas a gradual transformação do lucro gerado pela exploração do trabalho em uma renda obtida graças à privatização do conhecimento.

O mesmo é verdade para os recursos naturais, cuja exploração é uma das maiores fontes de renda do mundo. Há uma luta permanente a respeito de quem teria o direito de auferir essa renda, se os cidadãos do terceiro mundo ou as grandes multinacionais ocidentais. Paradoxalmente, explicando a diferença entre o trabalho (que no uso produz mais-valia) e outras mercadorias (que consomem o seu valor no uso), Marx fala justamente do petróleo como exemplo de uma mercadoria “ordinária”, cujo consumo diminui ao se elevar o preço. Hoje qualquer tentativa de conectar o aumento e a diminuição do preço do petróleo ao crescimento ou à queda dos custos de produção ou ao custo da mão-de-obra utilizada não teria sentido: os custos de produção são insignificantes respeito ao preço que pagamos pelo petróleo, um preço que, na realidade, é a renda de que os proprietários do recurso podem dispor graças à sua limitada disponibilidade.
Uma das consequências do aumento causado pelo impacto, em crescimento exponencial, do conhecimento coletivo, é a mudança do papel do desemprego. É o sucesso do capitalismo em si (maior eficiência, crescimento da produtividade) a gerar desemprego, tornando inútil um número sempre maior de trabalhadores: aquilo que deveria ser uma bênção – ser preciso menos trabalho árduo – vira uma maldição. Ou, para dizê-lo em outros termos, a oportunidade de ser explorado em um trabalho a longo prazo é hoje percebida como um privilégio.

O mercado mundial, como observou Fredric Jameson, é “um espaço no qual todos foram, numa determinada época, trabalhadores produtivos, e no qual o trabalho começou, em toda parte, a ser demasiadamente custoso para o sistema”. No processo de globalização capitalista que estamos vivendo, a categoria dos desempregados não está mais limitada àquilo que Marx chamava de “exército industrial de reserva”. Inclui também, como observa Jameson, “aquelas exterminadas populações de todo o mundo que foram deliberadamente excluídas dos projetos modernizadores do capitalismo do mundo desenvolvido e postas de lado como casos desesperados”: os chamados estados falidos (Congo, Somália), vítimas das carestias ou dos desastres ecológicos, aqueles presos nas armadilhas de lutas étnicas pseudo-arcaicas, no centro das atenções dos filantropos e das ongs, ou alvos da guerra contra o terror.
Desse modo, a categoria dos desempregados foi ampliada até abranger uma gama enorme de pessoas, dos temporariamente desempregados aos não mais empregáveis e aos permanentemente desempregados, até os moradores dos guetos e favelas (todos aqueles que Marx tendia a liquidar, definindo-os “lumpenproletariat”) e a inteiras populações excluídas do processo capitalista global, como os espaços vazios nos mapas antigos.
Alguns creem que esta nova forma de capitalismo ofereça novas possibilidades de emancipação. Pelo menos essa é a tese de Multidões, de Michael Hardt e Antonio Negri, que procuram radicalizar a tese de Marx segundo a qual bastaria cortar a cabeça do capitalismo para se obter o socialismo. Marx, segundo eles, era vítima de um condicionamento histórico: pensava em termos de trabalho industrial centralizado, automatizado e hierarquicamente organizado, de modo que para ele o intelecto geral era algo parecido com uma agência central de planejamento.
Segundo os autores, somente hoje, com a consolidação do “trabalho imaterial”, tornou-se “objetivamente possível” uma reversão revolucionária. Esse trabalho imaterial estende-se entre dois polos, do trabalho intelectual (a produção de ideias, textos, programas para computador, etc.) ao trabalho de cura (como aquele desempenhado por médicos, baby-sitters e assistentes de voo). Hoje o trabalho imaterial é hegemônico, no sentido em que Marx afirmava que, no capitalismo do século XIX, era hegemônica a grande produção industrial: não se impõe com a força dos números, mas desempenhando o papel central, estrutural e emblemático. O que emerge é um domínio amplo e novo, definido “comum”: o saber compartilhado e novas formas de comunicação e cooperação. Os produtos do trabalho imaterial não são objetos, mas novas relações sociais ou interpessoais; a produção imaterial é biopolítica, é a produção da vida social.
Hardt e Negri descrevem o processo que os ideólogos do atual capitalismo pós-moderno celebram como a passagem da produção material àquela simbólica, da lógica centralista-hierárquica àquela da auto-organização e da cooperação multicêntrica. A diferença é que Hardt e Negri são fiéis a Marx: procuram demonstrar que ele tinha razão, que o emergir do intelecto geral é incompatível a longo prazo com o capitalismo. Os ideólogos do capitalismo moderno sustentam exatamente o oposto: a teoria (e a prática) marxista, afirmam, permanece nos limites da lógica hierárquica do controle estatal centralizado, portanto, não pode ser medida com os efeitos sociais da revolução da informação.
Há boas razões empíricas para sustentar-se essas tese: o que, de fato, condenou os regimes comunistas foi a sua incapacidade de adaptar-se à nova lógica social. Tentaram governá-la, fazer inúmeros projetos de planificação estatal centralizada em ampla escala. O paradoxo é que aquilo que Hardt e Negri celebram como uma oportunidade para superar o capitalismo é celebrado pelos ideólogos da revolução da informação como a ascensão de um novo tipo de capitalismo “sem atritos”. A análise de Hardt e Negri tem alguns pontos fracos que nos ajudam a compreender como o capitalismo tenha conseguido sobreviver àquela que (nos clássicos termos marxistas) teria podido ser uma nova organização da produção que o rendia obsoleto. Os dois estudiosos subestimam a dimensão do sucesso do capitalismo de hoje na privatização do intelecto geral, assim como o fato de que os próprios operários, mais que a burguesia, estejam se tornando supérfluos (são cada vez mais os trabalhadores que passam a se encontrar não só temporariamente desempregados, mas estruturalmente não empregáveis).
Se idealmente o velho capitalismo pressupunha um empreendedor pronto a investir dinheiro (seu ou emprestado) na produção que ele mesmo organizava e dirigia para embolsar um lucro, hoje um novo modelo está se afirmando: não mais o empreendedor que possui uma empresa, mas o gerente ou manager especialista (ou um conselho de gerentes presidido por um CEO) que dirige uma empresa que está nas mãos de bancos (por sua vez, guiados por um gerente que não é proprietário do mesmo) ou a investidores individuais. Nesse novo tipo ideal de capitalismo, a velha burguesia, tornada não funcional, adquire uma nova funcionalidade nas condições de gerência ou management assalariado: os exponentes da nova burguesia recebem um salário, e ainda que possuam parte da própria empresa, recebem ações a título de integração de sua compensação (”prêmios” para o respectivo “sucesso”).
Essa nova burguesia continua a se apropriar da mais-valia, mas na forma (mistificada) daquilo que foi definido como “mais-salário”: são pagos muito mais que o salário mínimo proletário (um ponto de referência puramente mítico, cujo único exemplo real na atual economia global é o salário dos operários explorados nas fábricas da China ou da Indonésia), e é essa diferença com relação aos proletários comuns a determinar o status deles. A burguesia em sentido clássico tende, portanto, a desaparecer: os capitalistas reaparecem como um subconjunto de trabalhadores assalariados, managers habilitados a ganhar mais em virtude de sua competência (e é por esse motivo que a “avaliação” pseudocientífica se torna crucial”, ela legitima as disparidades). A categoria dos trabalhadores que ganham um “mais-salário” não se limita, obviamente, aos gerentes, mas se estende a todos os tipos de especialistas, administradores, funcionários públicos, médicos, advogados, jornalistas, intelectuais e artistas. O “mais” ou “plus” assume duas formas: mais dinheiro (para os gerentes e similares), mas também menos trabalho e mais tempo livre (para alguns intelectuais, mas também para os administradores públicos, etc.).

O processo de avaliação usado para decidir quais trabalhadores tenham que receber um mais-salário é um mecanismo arbitrário do poder e da ideologia, sem qualquer relação séria com a verdadeira capacidade do sujeito. O mais-salário não existe por motivos econômicos, mas por motivos políticos: serve para manter uma “classe média” em função da estabilidade social. A arbitrariedade da hierarquia social não é um erro, mas o verdadeiro xis da questão, e a arbitrariedade da avaliação desempenha um papel análogo à arbitrariedade do sucesso de mercado. A violência ameaça explodir não quando há demais contingência no espaço social, mas quando se procura eliminá-la.
Em “La marque du sacré” Jean-Pierre Dupuy define a hierarquia como um dos quatro procedimentos (“dispositivos simbólicos”) utilizados para tornar não humilhante a relação de superioridade: a hierarquia (uma ordem imposta a partir do exterior que me consente de perceber a minha condição social inferior como independente do meu valor pessoal); a desmistificação (o procedimento ideológico que demonstra como a sociedade não é uma meritocracia mas o produto de objetivas lutas sociais, consentindo-me assim de evitar a dolorosa conclusão de que a superioridade de alguém seja o resultado de seu mérito e de seus resultados); a contingência (um mecanismo parecido, que nos consente de entender como a nossa posição na escala social depende de uma loteria natural e social: os felizardos são aqueles nascidos com os genes certos em famílias ricas); e a complexidade (forças incontroláveis têm consequências imprevisíveis: por exemplo, a mão invisível do mercado pode levar à minha falência e ao sucesso do meu vizinho, ainda que eu trabalhe muito mais e seja muito mais inteligente).
Apesar das aparências, esses mecanismos não contestam ou ameaçam a hierarquia, mas a tornam aceitável, pois “o que faz desencadear a inveja é a ideia de que o outro mereça a sua sorte e não a ideia oposta, a única que pode ser expressa abertamente”. A partir dessa premissa, Dupuy chega à conclusão que é profundamente errado acreditar que uma sociedade razoavelmente justa, possa ser isenta de rancor: ao contrário, é próprio de uma sociedade desse tipo que quem ocupa posições inferiores dará vazão ao seu orgulho ferido com violentas explosões de ressentimento.

A este fenômeno está associado o impasse em que se encontra a China de hoje: o objetivo ideal das reformas de Deng Xiaoping era introduzir o capitalismo sem a burguesia (porque se teria tornado a nova classe dirigente). Mas agora os líderes chineses têm que lidar com a dolorosa descoberta de que o capitalismo sem a sólida hierarquia tornada possível pela existência de uma burguesia gera uma instabilidade permanente. E então que caminho tomará a China? Os ex-comunistas estão demonstrando ser os gerentes mais eficientes do capitalismo porque sua inimizade histórica com relação à burguesia enquanto classe se adapta perfeitamente com a tendência do capitalismo atual de se tornar um capitalismo gerencial sem burguesia – em ambos os casos, como disse Stalin há muito tempo, “os quadros decidem tudo” (uma diferença interessante entre a China e a Rússia de hoje: na Rússia, os professores universitários são ridiculamente mal pagos – na realidade, já fazem parte do proletariado – ao passo que na China eles têm um confortável mais-salário, o que garante a docilidade dos mesmos).
A ideia do mais-salário lança nova luz também sobre os persistentes protestos “anticapitalistas”. Em tempos de crise, os primeiros candidatos a apertar o cinto são os níveis mais baixos da burguesia assalariada: o protesto político é o único caminho possível se quiserem evitar de se unir ao proletariado. Mesmo que seus protestos com palavras sejam dirigidos contra a lógica brutal do mercado, estão de fato protestando contra a gradual erosão de sua posição econômica politicamente privilegiada.
Na “Revolta de Atlante”, Ayn Rand imagina uma greve de capitalistas “criativos”, uma fantasia que encontra a sua realização perversa nas greves atuais, muitas das quais têm como protagonista uma burguesia assalariada movida pelo medo de perder os seus mais-salários. Esses não são protestos proletários, mas contra a ameaça de se verem reduzidos ao status de proletários. Quem ousa fazer greve, hoje, quando ter um trabalho estável é por si só um privilégio? Não os operários mal pagos naquilo que sobra das fábricas têxteis ou lugares similares, mas aqueles trabalhadores privilegiados que têm lugar garantido: professores, operadores do sistema de transporte público, policiais. Isso explica também a onda de protestos dos estudantes: sua motivação principal é presumivelmente o medo de que no futuro a instrução superior não garanta mais um mais-salário.
Ao mesmo tempo, é claro que a enorme onda de protestos do ano passado, da primavera árabe à Europa ocidental, de Occupy Wall Street à China, da Espanha à Grécia, não deveria ser qualificada simplesmente como uma revolta da burguesia assalariada. Cada caso deve ser considerado individualmente. Os protestos estudantis contra a reforma universitária na Grã-Bretanha eram claramente diferentes dos choques de agosto, que foram um festival consumista de destruição, uma verdadeira explosão dos excluídos.
Poderíamos argumentar que a sublevação no Egito tenha começado em parte como uma revolta da burguesia assalariada (com os jovens com educação formal que se manifestavam devido à falta de perspectivas), mas esse foi só um aspecto de uma rebelião mais ampla contra um regime opressor. Por outro lado, o protesto não envolveu uma verdadeira mobilização dos operários e dos camponeses pobres, e a vitória eleitoral dos islamistas deixa evidente a limitada base social da origem do protesto laico. A Grécia é um caso especial: nos últimos decênios foi criada uma nova burguesia assalariada (especialmente na paquidérmica administração estatal), graças aos auxílios financeiros da União Europeia, e os protestos foram motivados em grande parte pela ameaça de que tudo isso possa acabar.
Paralelamente à proletarização da pequena burguesia assalariada, ocorre no extremo oposto a remuneração irracionalmente alta dos top managers e dos grandes banqueiros (irracional porque ela tende a ser inversamente proporcional ao sucesso de uma empresa). Em vez de submeter essas tendências a uma crítica moralista, deveríamos lê-las como sinais do fato de que o sistema capitalista não é mais capaz de garantir uma estabilidade auto regulamentada. Em outras palavras, ele corre o risco de escapar ao controle.