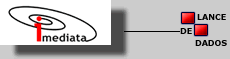|
|
|
|
Agora é o que? |
|
|
Emir Sader |
|
|
Nós
não somos, no Brasil, o umbigo do mundo. Mas da mesma forma que
nos valemos do balanço feito por Perry Anderson em 1994 para
compreender o por que da derrota da esquerda naquela momento, agora
podemos perguntar-nos de que forma podemos nos valer da sua análise
para compreender melhor as condições da vitória
da esquerda — seus pontos fortes e suas fragilidades.
Está claro que uma década miserável também no plano intelectual dificilmente poderia ter resultado na elaboração da teoria de transição do neoliberalismo para uma forma de posneoliberalismo. No máximo conseguimos elaborar cotidianamente a crítica do governo de FHC, do neoliberalismo como modelo hegemônico no plano mundial, na América Latina e no Brasil, sem no entanto termos avançado significativamente nas propostas sobre as formas de ruptura com o neoliberalismo. Significativamente também pontos altos na nossa luta de resistência foram modalidades de rejeição — não ao pagamento da dívida e não à Alca, nos magníficos plebiscitos realizados, não às privatizações, etc. -, com avanços menos significativos na elaboração política de formas de ruptura concreta. (A ênfase na moratória, em lugar da renegociação, por exemplo, representou uma forma de rejeição, possível, com uma relação de forças superior e que termina favorecendo as políticas — suicidas - de cumprimento dos compromissos existentes.) Mas como podemos valer-nos do texto de Perry Anderson para pensar a situação do Brasil hoje, isto é, a real correlação de forças em que a esquerda triunfa eleitoralmente. As últimas transformações históricas no Brasil foram apoiadas em formulações políticas e teóricas mais explícitas que as que se na anunciam atualmente. O Plano Trienal elaborado por Celso Furtado enunciava os objetivos do governo Jango, com suas reformas de base, principalmente a reforma agrária e a lei de limitação da remessa de lucros ao exterior. O golpe militar seguiu à risca a cartilha da Doutrina de Segurança Nacional, aquela que fez do Estado brasileiro o quartel-general de um projeto de Estado-nação de caráter militar e expansionista. A transição democrática seguiu a teoria do autoritarismo, aquela que dizia que a ditadura se limitava a uma concentração do poder político em torno do executivo e do poder econômico em torno do Estado, prenunciando como as teses de FHC apontavam já para seu ideário neoliberal no governo. Estas eleições representam, pela primeira na nossa história, o triunfo inquestionável da esquerda. Mas as eleições, como sabemos, não resolvem o problema do poder, mas podem colocá-lo. De imediato, colocar a transcendental contradição entre democracia e capitalismo, essencial para que seja possível desmascarara a nefasta identificação entre liberalismo e democracia. Quando a vontade majoritária do povo brasileiro — um de cada dois brasileiros — expressa vontade de um outro Brasil possível, os capitais especulativos aumentam sua chantagem sobre o país, valendo-se da sacrossanta propriedade privada dos meios de especulação — a forma específica de reprodução de capitais na era da hegemonia do capital financeiro. A revelação à superfície desta contradição permitirá a consciência popular sobre a natureza de dois dos fenômenos essenciais que vivemos atualmente — vivemos numa sociedade capitalista, cujos interesses de reprodução se chocam com o capitalismo. Se romperia assim um dos elos essenciais da hegemonia neoliberal atual — aquele que faz da desgatada modalidade de regime político liberal o sinônimo de democracia (pelo qual o Peru de Fujimori seria democrático e a Cuba de Fidel, não.) Além disso, de imediato as negociações para a Alca, daqui a dez dias no Equador, quando o Brasil deveria assumir, junto com os EUA, a presidência desse suposto acordo de livre comércio das Américas, colocará, desde já, para o novo governo, necessidade de definições que certamente se chocarão com os interesses do truculento governo norte-americano. O caráter imperial da hegemonia norte-americana não demorará a se revelar mais abertamente — se não bastasse a piada sem graça do sub-sub-secretario de comércio dos EUA de que se não nos integrarmos à Alca, teríamos que fazer com a Antártida, como se a alternativa ao McDonalds e ao Titanic fosse necessariamente os pingüins e os icebergues. Triste cabeça de quem acredita nas suas próprias invenções de uma via única da história. Na realidade já naufragaram as afirmações daqueles que, mais realistas que o rei, como FHC, que pagou, entre tantos outros, o mico de ter dito que "não há mais imperialismo", quando o próprio governo Bush se reivindica um "império do bem", para estabilizar zonas da humanidade que insistem em ser incapazes de se auto-governo, conforme os critérios do Pentágono. A voz cautelosa do historiados carioca José Murilo de Carvalho já nos advertiu esta semana como não seria de se estranhar se o governo Bush incluísse o Brasil na lista das "forças do mal", estendendo sua política de criminalização dos conflitos para nossas fronteiras. Esses conflitos perfeitamente previsíveis colocam para nós enormes desafios teóricos e está claro que entre nossos pontos fracos está a elaboração, tanto estratégica quanto tática, para sair do neoliberalismo. Por que um dos princípios essenciais que norteiam o texto de Perry Anderson é o velho e sempre vigente princípio leninista de que "sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária". A falta de uma compreensão rigorosa do real costuma ser paga impiedosamente pelos tropeços inesperados para os que subestimam as contradições que articulam o real, as lutas de classe que insistem em permear nossas sociedades, a hegemonia imperial, fora da qual pouco ou nada de importante pode ser explicado no mundo contemporâneo. Quais são esses desafios ou pelos menos os principais dentre eles? Em primeiro lugar, avaliar devidamente, com o maior grau de precisão possível, as transformações que o neoliberalismo — com suas doutrinas e as transformações reais que operou — introduziu na sociedade brasileira. Em outras palavras, nos reapropriarmos do que é hoje o capitalismo brasileiro, com seus processos de acumulação de capital, de reprodução social, de representação política, de expressão cultural, de dependência externa. Sem isso, não seremos contemporâneos do nosso presente, não estaremos pisando com graus mínimos de certeza no chão da sociedade brasileira. Disso depende nossa capacidade de avaliação das reais relações de forças existentes, da definição dos inimigos e dos aliados, das forças a derrotar e daquelas a neutralizar, das forças a conquistar e daquelas a que é preciso apoiar na sua constituição como sujeitos. Em segundo lugar, avaliar, a cada momento, através de análises de conjuntura, a evolução das relações de forças, no Brasil, na América Latina e no mundo. Desse acompanhamento dependem as táticas que materializam a capacidade de ação estratégica da esquerda. Nunca o mundo foi tão contraditório e o nosso país, de certa forma, também. Nunca o capitalismo produziu tanta desigualdade e miséria, porém nunca a esquerda foi tão fraca em escala mundial. Nunca o povo brasileiro votou de forma tão progressista, mas os níveis de mobilização social, de luta por seus direitos, de construção de sujeitos políticos e culturais populares está muito por baixo dos níveis de miséria e de desigualdade que o capitalismo produz e reproduz cotidianamente no Brasil. Em que estamos frágeis? Em apoiar a construção dos sujeitos populares que podem protagonizar esses conflitos? Em conseguir falar para os principais protagonistas dos conflitos cotidianos na nossa sociedade que, infelizmente, infestam mais as páginas policiais do que as sociais e políticas? Todas essas são perguntar que somente um conhecimento concreto da realidade concreta pode permitir decifrar e nos colocar em condições de apoiar o ingresso na luta política e social dos milhões de jovens pobres das periferias das grandes cidades, os grandes ausentes de nossos partidos, de nossos movimentos sociais, de nossas universidades. Porque análise de conjuntura não é coleção plácida de estatísticas econômicas, embora estas tenham que fazer parte dela. É análise das condições objetivas e subjetivas — e me desculpem pelo uso de categorias antigas, mas sempre atuais — de luta pela transformação do mundo. Porque não estamos na universidade pública, financiados pelos impostos e pelo trabalho daqueles cujos filhos não cruzam nossos muros, para interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas para somarmos aos que desejam transforma-lo e para que ajudar a difundir esse desejo de transformação. Para capacitar-nos para essas tarefas, temos que multiplicar os cursos de formação histórica e política, para os estudantes da universidade, para os trabalhadores da universidade, para os professores da universidade, para todos os segmentos da sociedade que estejam procurando qualificar-se para reapropriar-se da capacidade de entender sua situação no mundo e para buscar sua transformação. Porque ao "sem teoria revolucionária não há prática revolucionária", é preciso acrescentar aquele outro objetivo, tão esquecido em termos de marketing e de consumismo: a luta contra a alienação. Contra a alienação na produção de mercadorias pela classe trabalhadora que produz as riquezas apropriadas por outros, a luta contra a alienação das grandes decisões econômicas, em que a autocracia capitalista nas fábricas e no conjunto da economia impede que aqueles que efetivamente produzem todas as riquezas, decidam sobre o que produzir para quem produzir, como produzir. A luta contra a alienação em que o mundo nos aparece mais alheio do que nunca, quando mais os homens criaram os meios para amolda-lo à sua vontade. A luta contra alienação em que as leituras de auto-ajuda e de esoterismo ocupam a cabeça do pouco tempo livre que sobra para a grande maioria das pessoas, bloqueando sua capacidade de pensar-se a si mesmo a partir de suas condições reais de existência. Se a universidade pública não serve para o combate à alienação do nosso povo, podemos nos perguntar: para que ela estará servindo? A nossa qualificação para estarmos à altura dos desafios que o Brasil passa a enfrentar a partir de agora significa também reapropriar-nos da história, da formação histórica indispensável, em primeiro lugar, para termos consciência de onde estamos na entrada do novo século, de que período histórico é este em que nos atrevemos a romper com o neoliberalismo e com as receitas pré-fabricadas do consenso de Washington, que tanto sucesso tiveram e tanto entusiasmo despertaram nos governantes e nos seus ventríloquos na grande imprensa. Necessitamos fortalecer, mais do que nunca, nossa participação no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, de que nos orgulhos de hospedar, (para o que teremos, dia 5 de novembro, um ato aqui mesmo na Uerj), para que nossos avanços no Brasil se articulem com o fortalecimento do Mercosul, com alternativas conjuntas para a Argentina e para o conjunto da América Latina, para que nossa vitória acene para os milhões que lutam pelos nossos mesmos ideais, com propostas de aliança, de ação conjunta, de constituição das instâncias que permitam a construção do "outro mundo possível", anunciado pelos zapatistas em 1994, recolhido pelos manifestações desde Seattle e escancarado por todos nós, desde Porto Alegre. Temos, ainda, que construir os instrumentos de reflexão e de difusão do pensamento da esquerda, em relação aos quais há iniciativas de pelo menos termos um semanário independente — de que vocês tem as informações neste evento -, mas que estão ainda excessivamente embrionários, pela aceleração da luta ideológica e cultura que a vitória do Lula introduz no Brasil. Sem uma imprensa própria, dificilmente todas as condições anteriores poderão desembocar em resultados concretos, dificilmente o pensamento crítico poderá penetrar nas massas e se tornar força material. Por
último, se fosse possível fechar estas lista dos requerimentos
para que as idéias e a ação política possam
desembocar nas transformações históricas que queremos
— aquelas pregadas por Caio Prado Jr., por Florestan Fernandes,
por Milton Santos, por Darcy Ribeiro, entre tantos outros — temos
que despertar ou trabalhar para redespertar essa enorme força
moral a que se referia Gramsci, sem a qual nenhuma grande transformação
histórica é possível. Eu a resumiria no elogio
da militância política, da dedicação com
o que de melhor nós temos — teórica e praticamente
— para a construção de um Brasil melhor, de um Brasil
solidário, de um Brasil à altura de Chico Mendes, do Betinho,
do Mário Pedrosa, de todos os que acreditaram sempre e nos abriram
o caminho para este momento que é de promessas e de desafios.
Temos que entrar nele conscientes que se fracassarmos, teremos perpetuado
o Brasil das injustiças e condenado a esquerda a um projeto sem
esperança e se triunfarmos — estou confiante que triunfaremos
— estaremos mudando a face do Brasil e fazendo do nosso país
um país com a sua melhor cara, a cara da sua cultura, a cara
do seu povo, a cara do Chico
Agora "vai passar nessa avenida um samba popular".
Envie
um comentário sobre este artigo
|
|