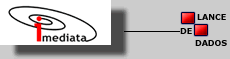|
|
|
|
Do Banco Mundial à Cisjordânia |
|
|
George
Monbiot Tradução
Imediata |
|
|
Dois tipos de escudos humanos estão sendo usados na Cisjordânia. O primeiro é o menos voluntário. O exército israelense, como alguns dos grupos terroristas que combate, tem mantido reféns. Seus soldados têm forçado civis palestinos para fora de seus supostamente suspeitos edifícios, de modo que os atiradores que se encontrarem eventualmente ao interior desses edifícios tenham que atirar nos civis, se quiserem responder aos tiros recebidos. O segundo tipo de escudo humano optou por colocar-se deliberadamente na linha de fogo. Desde que começou a ofensiva do exército israelense na Cisjordânia, centenas de manifestantes pacifistas israelenses, assim como ativistas estrangeiros têm tentado se colocar em seu caminho. Correndo um grande risco pessoal, membros do Movimento de Solidariedade Internacional têm procurado proteger a população civil, tornando-se reféns voluntários. Trata-se de uma demonstração extraordinária de coragem e auto-sacrifício. É também a última encarnação de um movimento que apenas alguns meses atrás era dado como morto. O movimento ao qual pertencem muitos dos ativistas da paz, os quais estão arriscando suas vidas em Ramallah e Belém, não tem nome. Algumas pessoas o batizaram de anti-globalização ou anti-corporações ou de campanha anti-capitalista. Outros preferem enfatizar sua agenda positiva, chamando-o de movimento pela democracia ou movimento internacionalista. Mas como seus membros sempre colocaram a prática à frente da teoria, eles tornaram muito difícil uma categorização. Onde quer que pareça estar assumido uma identidade que possa ser compreendida pelas pessoas estranhas a ele, metamorfoseia-se em outra coisa. É impulsionado por uma política nova e responsiva, informado não pela ideologia, mas pela necessidade. Depois do 11 de setembro, essa coisa-sem-nome parecia ter ido para o espaço, tão rapidamente quanto tinha emergido. As grandes demonstrações planejadas para o final de setembro contra o Banco Mundial e o FMI em Washington se tornaram uma marcha pequena e bastante tímida pela paz. A maioria dos ativistas dos EUA, intimidados pelo novo mccartismo que tem dominado o discurso americano desde o ataque em Nova York, manteve a cabeça baixa. Os comentadores desqualificaram o movimento como uma moda passageira que tinha ondulado pela juventude mundial, tão difundida quanto insubstancial, como a Coca Diet ou o swoosh da Nike. Mas aqueles que desqualificaram o movimento dessa forma falharam em compreender tanto a seriedade de suas intenções quanto a amplitude de sua base de apoio. As câmaras de televisão sempre centradas em algumas centenas de jovens vestidos de negro e criando tumulto, entrecortados ocasionalmente por um carnaval mais amplo de protestos. Mas elas raramente permitiram a seus participantes explicar o senso de propósito que os impelia. Assim, a maioria dos "de fora" falharam em ver que o empenho das muitas pessoas envolvidas nesses protestos não é negociável. O movimento não tem maior probabilidade de desaparecer do que os governos ou as corporações que confronta. Sua sobrevivência está garantida pela sua habilidade de se transformar naquilo que ele precisa ser. No mês passado, 250,000 manifestantes viajaram a Barcelona para contestar o assalto às leis de emprego e ao setor público que estão sendo conduzidas por Tony Blair, Silvio Berlusconi e Jose Maria Aznar. Neste mês, alguns deles se dirigiram à Palestina. Entre os participantes do contingente britânico se encontram pessoas que ajudaram a organizar as campanhas contra o poder das corporações, a engenharia genética e a mudança climática. A eles juntaram-se essa semana membros da organização italiana Ya Basta, os quais ajudaram a coordenar os protestos em Gênova. Para o movimento que desabrochou em Seattle, o Banco Mundial (World Bank) e a Cisjordânia (West Bank) pertencem ao mesmo território político. Se os manifestantes simplesmente se deslocassem como uma horda de um ponto para o outro, seus esforços poderiam ser mais do que inúteis. Mas uma das lições fundamentais que esse movimento de rápido amadurecimento aprendeu é que o protesto é efetivo somente se for construído sobre a base dos esforços dos especialistas. Como a maioria dos povos da terra, os estrangeiros na Cisjordânia se tornaram visíveis quando começaram a sangrar (cinco participantes britânicos foram feridos na semana passada pelas balas de fragmentação ilegais do exército israelense), mas alguns estrangeiros têm trabalhado na região há décadas. Os recém-chegados se juntam às redes bem estabelecidas há tempo e fazem o que lhe dizem para fazer. Entre as balas e os buldôzeres, o movimento está descobrindo a coragem, suspeitada de longa data, mas raramente testada. Os manifestantes foram para as casas de pessoas ameaçadas de bombardeio pelo exército israelense, garantindo que os soldados não possam atacar palestinos sem atacar estrangeiros igualmente. Eles têm ficado dentro de ambulâncias levando os doentes ou feridos para o hospital, na esperança de acelerar a passagem através dos pontos de controle israelenses e prevenindo atos violentos da parte dos soldados contra os ocupantes dos veículos. Eles têm tentado escoltar remessas de comida e remédios em bairros carentes de suprimentos e procurado encorajar ambos os lados a abandonar as armas em favor de soluções não-violentas. Em outras palavras, eles estão se tornando uma espécie de Nações Unidas de base tentando, com seus parcos recursos, manter as promessa que seus governos quebraram. Talvez o mais importante é que os manifestantes da paz são os únicos estrangeiros a testemunhar, em alguns lugares, as atrocidades que estão sendo cometidas. Utilizando redes de notícias alternativas como a Indymedia e a Allsorts, eles foram capazes de chamar a atenção a eventos que a maioria dos jornalistas deixou passar despercebidos. Eles viram como os palestinos, informados pelo exército israelense de que o toque de recolher tinha sido suspendido, foram na realidade mortos pelos disparos ao por o pé para fora de suas casas, ou apreendidos e usados como escudos humanos. Eles testemunharam o saqueio de casas e a destruição deliberada dos mantimentos das pessoas. Eles viram ambulâncias e caminhões de socorro sendo parados e esmagados. No dia 28 de março, um manifestante pacifista viu soldados israelenses em jipes caçando mulheres e crianças que estavam fugindo pelos campos na periferia de Ramallah, tentando baleá-los a sangue frio. E, tornando-se eles mesmos a própria história, à medida em que são espancados e baleados, esses estrangeiros a acabaram levando para casa, a pessoas antes indiferentes com relação ao assassinato e à mutilação das populações civis indígenas. A chegada do movimento na Cisjordânia é um desenvolvimento orgânico de suas atividades em outras partes. Durante anos o movimento tem contestado as políticas exteriores destrutivas dos governos mais poderosos do mundo, e os correspondentes fracassos das instituições multilaterais que deveriam contê-los. Mais do que ecoar a estrondosa mas ultrapassada demanda de comentadores de ambos os lados do Atlântico de que Yasser Arafat (um homem que nesses dias nem pode usar a válvula de descarga) deveria eliminar o terror no Oriente Médio, os manifestantes estão, como sempre, se dirigindo àqueles que detêm o poder real: Israel e os governos que fornecem o dinheiro e os armamentos que possibilitam a ocupação d Cisjordânia. O movimento tem sempre sido pragmático, pronto a protestar seja o tratamento dispensado por Burma ao seu povo tribal seja a expropriação dos tibetanos pelos chineses, ou a forma como o FMI está lidando com a Argentina. Na Palestina, como no resto do mundo, está tentando posicionar-se entre o poder e aqueles a quem o poder aflige. O resto do mundo está exigindo que alguém faça alguma coisa a respeito do conflito no Oriente Médio. Os manifestantes pacifistas estão fazendo essa coisa.
World Bank To West Bank by George Monbiot April 10, 2002 Two sets of human shields are in use in the West Bank. The first is less than willing. The Israeli army, like some of the terrorist groups it has fought, has been taking hostages. Its soldiers have been propelling Palestinian civilians through the doors of suspect buildings, so that the gunmen they might harbor have to kill them first if they want to fight back. The second set of human shields has deliberately placed itself in the line of fire. Since the army's offensive in the West Bank began, hundreds of Israeli peace campaigners and foreign activists have been seeking to put themselves in its way. At great personal risk, members of the International Solidarity Movement have sought to protect civilians by making hostages of themselves. It is a display of extraordinary courage and self-sacrifice. It is also the latest incarnation of a movement which just months ago was left for dead. The movement to which many of the peace activists risking their lives in Ramallah and Bethlehem belong has no name. Some people have called it an anti-globalization or anti-corporate or anti-capitalist campaign. Others prefer to emphasize its positive agenda, calling it a democracy or internationalist movement. But, because they have always put practice first and theory second, its members have proved impossible to categorize. Whenever it appears to have assumed an identity outsiders believe they can grasp, it morphs into something else. It is driven by a new, responsive politics, informed not by ideology but by need. After September 11, this nameless thing appeared to vanish as swiftly as it had emerged. The huge demonstrations planned for the end of September against the World Bank and IMF in Washington became a small and rather timorous march for peace. Most US activists, cowed by the new McCarthyism which has dominated American discourse since the attack on New York, kept their heads down. Commentators dismissed the movement as a passing fad which had rippled through the world's youth, as widespread and as insubstantial as Diet Coke or the Nike swoosh. But those who dismissed it had failed to grasp either the seriousness of its intent or the breadth of its support. The television cameras always focused on a few hundred young men dressed in black and running riot, intercut occasionally with the wider carnival of protest. But they seldom permitted its participants to explain the sense of purpose which propelled them. So most outsiders failed to see that the commitment of many of the people involved in these protests is non-negotiable. The movement is no more likely to go away than the governments and corporations it confronts. Its survival is assured by its ability to become whatever it needs to be. Last month 250,000 protesters travelled to Barcelona to contest the assault on employment laws and the public sector being led by Tony Blair, Silvio Berlusconi and Jose Maria Aznar. This month some of them moved to Palestine. Among those in the British contingent are people who have helped to run campaigns against corporate power, genetic engineering and climate change. They were joined this week by members of the Italian organization Ya Basta, which helped to coordinate the protests in Genoa. For the movement which came of age in Seattle, the World Bank and the West Bank belong to the same political territory. If the protesters simply shifted as a mob from one location to another, their efforts would be worse than useless. But one of the key lessons this rapidly maturing movement has learned is that protest is effective only if it builds on the efforts of specialists. Like most of the Earth's people, the foreigners on the West Bank became visible when they began to bleed (five British campaigners were injured last week by the Israeli army's illegal fragmentation bullets), but some outsiders have been working there for decades. New arrivals join long-established networks and do what they are told. Among the bullets and the bulldozers, the movement is discovering a courage long suspected but seldom tried. Protesters have moved into the homes of people threatened with bombardment by the Israeli army, ensuring that the soldiers cannot attack Palestinians without attacking foreigners too. They have been sitting in the ambulances taking sick or injured people to hospital, in the hope of speeding their passage through Israeli checkpoints and preventing the soldiers from beating up the occupants. They have been trying to run convoys of food and medicine into neighborhoods deprived of supplies; and seeking to encourage both sides to lay down their arms in favor of non-violent solutions. They are becoming, in other words, a sort of grassroots United Nations, trying with their puny resources to keep the promises their governments have broken. Perhaps most importantly, the peace campaigners are the only foreign witnesses in some places to the atrocities being committed. Using alternative news networks such as Indymedia and Allsorts, they have been able to draw attention to events most journalists have missed. They have seen how Palestinians, told by the Israeli army that the curfew had been lifted, have been either shot dead when they stepped outside or seized and used as human shields. They have witnessed the sacking of homes and the deliberate destruction of people's food supplies. They have seen ambulances and aid trucks being stopped and crushed. On March 28 one peace protester watched Israeli soldiers in jeeps hunting women and children who were fleeing across the fields on the outskirts of Ramallah, trying to shoot them down in cold blood. And, by becoming the story themselves, as they are beaten and shot, the foreigners have brought it home to people who were dismissive of the murder and maiming of indigenous civilians. The movement's arrival on the West Bank is an organic development of its activities elsewhere. For years it has been contesting the destructive foreign policies of the world's most powerful governments, and the corresponding failures of the multilateral institutions to contain them. Rather than echo the thunderous but effete demand of commentators on both sides of the Atlantic that Yasser Arafat (a man currently unable to use a flushing toilet) should stamp out the terror in the Middle East, the campaigners are, as ever, addressing those who wield real power: Israel and the governments who supply the money and weaponry which permit it to occupy the West Bank. The movement has always been a pragmatic one, as ready to protest against Burma's treatment of its tribal people or China's dispossession of the Tibetans as the IMF's handling of Argentina. In Palestine, as elsewhere, it is seeking to place itself between power and those whom power afflicts. Everyone else is demanding that somebody should do something about the conflict in the Middle East. The peace campaigners are doing it. Envie
um comentário sobre este artigo
|
|