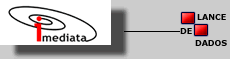|
|
|
|
O fracasso dos nossos escritores |
|
|
John Pilger Tradução
Imediata |
|
|
No dia 17 de junho, escrevi sobre o recente artigo de Martin Amis no Guardian, "A voz da multidão solitária", no qual ele descrevia a resposta de escritores famosos como ele ao 11 de setembro como um "balbuciar lamentável". De fato, eles ficaram e permaneceram em grande parte silenciosos. O dramaturgo David Hare quebrou o seu silêncio neste mês num artigo ao Guardian promovendo a sua peça Via Dolorosa, que trata dos israelenses e palestinos, e foi escrita em 1997-98, período que Hare descreve como "um momento de romântica abertura mental". É com essa "romântica abertura mental" que ele define as negociações que levaram aos encontros de Camp David em setembro de 2000 e que teriam, na realidade, mantido os palestinos presos em cantões-ciladas, concebidos nos prévios acordos de Oslo. Um comentador israelense chamou isso de "a autonomia de um campo de prisioneiros de guerra". O artigo de Hare no Guardian também foi uma resposta ao meu próprio artigo de 17 de junho. Ele escreveu que eu tinha lamentado "a pobreza endêmica da vida cultural britânica". Não é bem assim; a vida cultural britânica está bem, se for descontada a introspecção de ‘sala de estar’ de seus ricos e famosos escritores: aqueles cuja reticência é indesculpável neste momento de grande perigo. Enquanto a agressiva superpotência entrega os palestinos aos braços de Ariel Sharon (considerado "pessoalmente responsável" pelos massacres de Sabra e Shatila, em 1982), também planeja um ataque a um estado soberano, o Iraque, com a perspectiva, segundo o Pentágono, de 10.000 civis mortos. Seu maior aliado, o governo Blair, dobrou os envios de armas a Israel e quase certamente se aliará aos americanos, em sua mais recente farra de sangue. Sob qualquer critério de lei internacional, para não dizer de moralidade, ambos os empreendimentos constituem crimes históricos. O leitor poderia pensar que, na tradição de Zola e Miller e Orwell, David Hare — outrora descrito como "o dramaturgo radical da Inglaterra" — teria algo a dizer sobre isso. Não. Ele nos fala de como é chato receber "algum questionário lisonjeiro [que é jogado] através da porta do escritor, pedindo-lhe que explique… porque os escritores pessoalmente aprovam ou desaprovam certas ações específicas de certos governos específicos — como se as questões profundas de poder e fé pudessem ser despachadas aos limites históricos pelo golpe de um chicote lançado do pulso de algum novelista". Será justo que o dramaturgo mais radical da Inglaterra não se sinta equipado para tomar uma posição? O Dr. Ala Khazendar de Cambridge, respondendo ao artigo de Hare no Guardian, apontou o contraste sutil da linguagem utilizada por Hare para descrever os israelenses e os palestinos. Para Hare, inteiras "famílias israelenses" são "destruídas" pelos ataques suicidas em seu país. Entretanto, os palestinos, e somente os "inocentes" entre eles, são "tomados" pela violência. O terrorismo israelense é descrito meramente como um dano para aqueles que se encontram "no caminho da subjugação militar", mas o terrorismo palestino é "assassino". Os extremistas do lado israelense são condenados como "fanáticos e expansionistas", mas entre aqueles que resistem e reagem a esse fanatismo, existe a "mais vil desumanidade". O dramaturgo radical está chocado que George W Bush o tenha decepcionado. "Parecia razoável aceitar", escreveu ele, que o "compromisso" de Bush com relação a um estado palestino "fosse uma oferta feita em boa fé, e que o presidente tinha aprendido as lições de sua relutância inicial para usar o poder da América para intervir na região". Relutância? Desde 11 de setembro, Bush enviou 228 sistemas guiados de mísseis para a força aérea israelense, juntamente com 24 moderníssimos helicópteros de artilharia Black Hawk e 50 caça-bombardeiros F-16, com partes britânicas. Hare está decepcionado com Colin Powell, "que tinha prometido tanto…" Será que essa é uma ironia? A última tarefa do General Powell foi supervisionar a matança de dezenas de milhares de civis do Iraque, durante a matança unilateral chamada de guerra do Golfo. Sua distinção prévia foi conduzir a operação de fachada do exército EUA pelo massacre de My Lai no Vietnã. Realmente, o dramaturgo radical está aborrecido que Powell e Bush o façam sentir um trouxa. Isso é compreensível. Como ele mesmo coloca, ele era um daqueles "que apoiaram energicamente a ação americana no Afeganistão, não só como um ato legítimo de autodefesa, mas também como um empreendimento humanitário em nome de um país em necessidade desesperada de ajuda [e] desfrutou de um breve momento de esperança, no último outono, quando pensávamos que tínhamos detectado… uma bem-vinda seriedade na política exterior EUA". Enquanto ele desfrutava desse momento de esperança, o New York Times reportava que Bush tinha "demandado… a eliminação de comboios de caminhões que forneciam a maior parte de alimentos e outros suprimentos para a população do Afeganistão". E em dezembro, a Universidade de New Hampshire divulgava os resultados de um estudo que determinou que os bombardeiros dos EUA tinham matado mais de 3.000 civis afegãos — mais do que o número de pessoas mortas nas torres gêmeas. Foi durante aquelas poucas semanas de esperança, escreveu Hare, que "pudemos acreditar que o ocidente tinha redescoberto o seu papel". Muitos diriam que esse "papel" nunca foi exatamente perdido. Em outubro, ao descrever o "papel" de rotina dos EUA, William Blum escreveu em Rogue State (Estado Escroque): "Armas da artilharia dos EUA metralharam e canhonearam o remoto vilarejo de agricultores de Chowkar-Karez, matando 93 pessoas. Um funcionário do Pentágono tocou-se, respondendo, a um certo ponto: ‘As pessoas lá estão mortas porque queríamos que estivessem mortas’. O Secretário da Defesa Donald Rumsfeld comentou: 'Não posso tratar daquele vilarejo em particular.’" A melhor peça de David Hare, Pravda, era um grito eloquente contra o abuso de poder. Com Bush apoiando abertamente o regime cripto-fascista do Likud, em Israel, enquanto se prepara para destruir um número incontável de vítimas no Iraque, aqueles que têm o privilégio de dispor de uma plataforma pública têm tanto o dever moral quanto o dever intelectual de parar de torcer as mãos em desespero, e desembuchar. Quando, recentemente, aquele que é a grande voz da liberdade, Desmond Tutu, reivindicou um boicote contra Israel, ele traçou um paralelo com o apartheid da África do Sul e o boicote que contribuiu para combater aquela anomalia. Como se estivesse se dirigindo a liberais inertes que acham "chato" o empenho dos demais, ele citou Martin Luther King: "Nossas vidas começam a findar no dia em que ficamos calados com relação às coisas que importam."
Our Writers Failure by John Pilger July 26, 2002
On 17 June, I wrote about Martin Amis's recent Guardian essay, "The voice of the lonely crowd", in which he described the response of acclaimed writers like himself to 11 September as a "pitiable babble". In fact, they were and remain mostly silent. The playwright David Hare broke his silence this month in a Guardian article promoting his play Via Dolorosa, which is about Israelis and Palestinians, and was written in 1997-98, during what Hare described as a "moment of romantic open-mindedness". By this, he meant the negotiations that led to the failed Camp David meetings in September 2000 which, in reality, would have trapped the Palestinians in cantons designed by the earlier Oslo accords. One Israel commentator called this "the autonomy of a prisoner-of-war camp". Hare's Guardian piece was also a reply to my 17 June piece. He wrote that I had lamented "the endemic poverty of British cultural life". Not so; Britain's cultural life is fine, if you discount the drawing-room introspection of its rich and famous writers: those whose reticence is inexcusable at this time of great danger. While the rampant superpower is delivering the Palestinians into the arms of Ariel Sharon (found "personally responsible" for the massacres at Sabra and Shatila in 1982) it is planning an attack on a sovereign state, Iraq, with the prospect, according to the Pentagon, of 10,000 civilian deaths. Its major ally, the Blair government, has doubled arms shipments to Israel and will almost certainly join the Americans in their latest bloody spree. By any measure of international law, if not morality, both these enterprises are historic crimes. You might think that, in the tradition of Zola and Miller and Orwell, David Hare - once described as "Britain's radical playwright" - might have something to say about this. No. He tells us what a bother it is to receive "some glib questionnaire [that drops] through a writer's door, asking him or her to take sides, to explain . . . why they personally do or do not approve of the particular actions of particular governments - as if profound questions of power and faith could somehow be despatched to the historical boundary by the flick of a novelist's wrist". Can it be right that Britain's radical playwright does not feel equipped to take sides? Dr Ala Khazendar of Cambridge, responding in the Guardian to Hare's article, pointed out the subtle contrast of the language used by Hare to describe the Israelis and Palestinians. To Hare, whole "Israeli families" are "destroyed" by the suicide attacks on their country. However, Palestinians, and only the "innocent" among them, are "caught" in the violence. Israeli terrorism is described merely as harming those who get in "the path of a military subjugation" but Palestinian terrorism is "murderous". Extremists on the Israeli side are condemned as "fanatics and expansionists", but among those resisting and reacting to this fanaticism, there exists the "vilest inhumanity". The radical playwright is dismayed that George W Bush has let him down. "It seemed reasonable to accept", he wrote, that Bush's "commitment" to a Palestinian state "was an offer made in good faith, and that the president had learnt the lessons of his initial reluctance to use America's power to intervene in the region". Reluctance? Since 11 September, Bush has shipped 228 guided missile systems to the Israeli air force, along with 24 state-of-the-art Black Hawk helicopter gunships and 50 F-16 fighter bombers, with British parts. Hare is disappointed by Colin Powell, "who promised so much . . ." Is this irony? General Powell's last job was overseeing the killing of tens of thousands of Iraqi civilians during the one-sided slaughter called the Gulf war. His previous distinction was conducting the US army's cover-up of the My Lai massacre in Vietnam. Indeed, the radical playwright is upset that Powell and Bush have "suckered" him. This is understandable. As he puts it, he was one of those "who strongly supported the American action in Afghanistan, not only as a legitimate act of self defence but also as a humanitarian undertaking on behalf of a country desperately in need of relief [and] enjoyed a brief moment of hope last autumn when we thought we detected . . . a welcome seriousness in US foreign policy". While he was enjoying this moment of hope, the New York Times reported that Bush had "demanded . . . the elimination of truck convoys that provide much of the food and other supplies to Afghanistan's civilian population". And last December, the University of New Hampshire released the results of a study which found that US bombers had killed in excess of 3,000 Afghan civilians - more than the number of those killed in the twin towers. It was during those few weeks of hope, wrote Hare, that "we were able to believe that the west had rediscovered its role". Many would say that "role" was never lost. In describing the routine American "role" last October, William Blum wrote in Rogue State: "US gunships machine-gunned and cannoned the remote farming village of Chowkar-Karez, killing as many as 93 civilians. A Pentagon official was moved to respond at one point: 'The people there are dead because we wanted them dead.' Defence Secretary Donald Rumsfeld commented: 'I cannot deal with that particular village.'" David Hare's best play, Pravda, was an eloquent shout against the abuse of power. With Bush now openly backing the crypto-fascist Likud regime in Israel, while about to destroy countless lives in Iraq, those with the privilege of a public platform have both a moral and an intellectual duty to stop wringing their hands and speak out. When that great voice of freedom, Desmond Tutu, recently called for a boycott on Israel, he drew the parallel with apartheid South Africa and the boycott that helped defeat it. As if addressing himself to inert liberals who find "glib" the commitment of others, he quoted Martin Luther King: "Our lives begin to end the day we become silent about things that matter." John Pilger's new book, The New Rulers of the World, is published by Verso
Envie
um comentário sobre este artigo
|
|