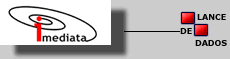|
|
|
|
A lógica do império |
|
|
George
Monbiot Tradução
Imediata |
|
|
Há quase algo de cômico na perspectiva de George Bush de declarar guerra a outra nação, por aquela nação ter desafiado o direito internacional. Desde que o Sr. Bush foi empossado, o governo dos EUA tem rasgado mais tratados internacionais e ignorado mais convenções da ONU do que o resto do mundo conseguiu fazer em vinte anos. Esse governo aniquilou a convenção de armas biológicas, ao mesmo tempo que testa ilegalmente as suas próprias armas biológicas. Recusou-se a conceder aos inspetores de armas químicas livre acesso aos laboratórios, e destruiu as tentativas de relançar as inspeções químicas no Iraque. Rasgou o tratado de mísseis antibalísticos e parece estar pronto para violar o tratado de banimento de testes nucleares. Permitiu que as tropas de ataque da CIA recomeçassem operações disfarçadas, do tipo das que incluíram, no passado, o assassinato de chefes de estado de países estrangeiros. Sabotou o tratado de armas leves, debilitou o tribunal penal internacional, recusou-se de assinar o protocolo de mudança climática e, no mês passado, procurou imobilizar a convenção internacional sobre a tortura, de modo a poder manter os observadores internacionais fora do campo de prisioneiros de Guantanamo Bay. Até mesmo sua preparação para ir à guerra contra o Iraque, sem um mandato do Conselho de Segurança da ONU é um desafio ao direito internacional muito mais grave que o não cumprimento de Saddam Hussein com relação aos inspetores de armas da ONU. Mas, na verdade, a declaração de guerra iminente do governo EUA não tem nada a ver com as inspeções de armas. No sábado, John Bolton, o oficial de governo dos EUA encarregado, hilariantemente, de "controle de armas", disse no programa Today que "nossa política … insiste numa mudança de regime em Bagdá e que nossa política não será alterada, com ou sem inspetores". A justificativa do governo EUA para atacar Saddam mudou duas vezes. No começo, o Iraque era identificado como alvo potencial porque estava "prestando assistência à Al-Qaeda". Ficou comprovado que isso não era verdadeiro. Depois, o governo EUA reivindicou que o Iraque devia ser atacado porque poderia desenvolver armas de destruição em massa, e recusava-se a permitir que os inspetores de armas pudessem constatar o fato. Agora que a evidência prometida não se materializou, a questão das armas foi abandonada. O motivo mais novo para a guerra é a própria existência de Saddam Hussein. Isso, pelo menos, tem a vantagem de ser verificável. Nesse ponto, fica óbvio que a decisão de declarar guerra ao Iraque vem em primeiro lugar, a justificativa, depois. Além da velha questão do fornecimento de petróleo, essa é uma guerra sem um propósito estratégico. O governo dos EUA não teme Saddam Hussein, por mais que tente assustar o seu próprio povo. Não há evidência de que o Iraque patrocine o terrorismo contra a América. Saddam está cansado de saber que se atacar outra nação com armas de destruição em massa, poderá esperar uma aniquilação nuclear. Ele não representa uma maior ameaça ao mundo hoje do que nos últimos dez anos. Mas o governo dos EUA tem várias razões domésticas urgentes para ir à guerra. A primeira é que atacar o Iraque dá a impressão de que a "guerra contra o terror" está desembocando em algum lugar. A segunda é que o povo de todas as nações super-dominantes ama a guerra. Como Bush pode ver no Afeganistão, golpear estrangeiros faz ganhar votos. Associada a essa preocupação está a necessidade de desviar a atenção dos escândalos financeiros nos quais estão emaranhados tanto o presidente quanto o seu vice. Já agora, com relação a isso, a guerra iminente parece estar funcionando muito bem. Os EUA também possuem um amplo complexo industrial-militar, o qual está em constante necessidade de conflito para poder justificar sua assombrosamente custosa existência. Talvez mais importante do que qualquer um desses fatores, os falcões que controlam a Casa Branca percebem que a guerra perpétua resulta em demanda perpétua dos seus serviços. E é difícil achar uma fórmula melhor para a guerra perpétua, com os terroristas e as outras nações árabes, do que a invasão do Iraque. Os falcões sabem que eles vencerão, perda quem perder. Em outras palavras, se os EUA não estivessem se preparando para atacar o Iraque, estariam se preparando para atacar outra nação. Os EUA irão à guerra contra aquele país porque precisam de um país contra o qual ir à guerra. Tony Blair também tem várias razões urgentes para apoiar a invasão. Apaziguando George Bush, ele aplaca a imprensa de direita inglesa. Ficando ao lado de Bush ele pode sustentar sua pretensão de liderança global com mais credibilidade do que os outros líderes europeus, enquanto defende a posição anômala da Grã-Bretanha como membro permanente do Conselho de Segurança. Dentro da Europa, seu relacionamento com o presidente lhe confere um papel eminente de corretor e intérprete do poder. Ao invocar o "relacionamento especial", Blair também evita o maior desafio que um primeiro ministro inglês teve que enfrentar desde a Segunda Guerra Mundial. Esse desafio é o de reconhecer e agir sobre a conclusão de qualquer análise objetiva do poder global: sobretudo, que a maior ameaça à paz mundial não é Saddam Hussein, mas George Bush. A nação que no passado foi nossa amiga mais firme está se tornando, ao contrário, nossa principal inimiga. Enquanto o governo EUA descobre que pode ameaçar e atacar outras nações com impunidade, seguramente logo começará a ameaçar países que têm sido nossos aliados. Como sua insaciável demanda por recursos provoca aventuras coloniais ainda mais ousadas e acabará interferindo diretamente com os interesses estratégicos de outros estados quase-imperiais. Enquanto recusa a assumir responsabilidade pelas consequências do uso daqueles recursos, ameaça o resto do mundo com um desastre ecológico. Passou a desdenhar outros governos, e está pronto para descartar qualquer tratado ou acordo que lhe impede atingir seus objetivos estratégicos. Está começando a construir uma nova geração de armas nucleares, e parece estar pronto para usá-los preventivamente. Pode estar prestes a acender um inferno no Oriente Médio, para o qual seria sugado o resto do mundo. Os EUA, em outras palavras, comportam-se como qualquer outro poder imperial. Poderes imperiais expandem seus impérios até que se deparam com uma resistência esmagadora. Abandonar esse relacionamento especial significaria aceitar que isso está ocorrendo. Aceitar que os EUA representam um perigo para o resto do mundo seria reconhecer a necessidade de resistir. Resistir contra os EUA seria a inversão mais ousada da política do governo britânico em mais de 60 anos. Não podemos resistir aos EUA nem por meios militares nem por meios econômicos, mas podemos resistir diplomaticamente. A única resposta segura e sensata ao poder americano é a política de não-cooperação. A Grã-Bretanha e o resto da Europa deveriam impedir, a nível diplomático, todas as tentativas dos EUA de agir unilateralmente. Deveríamos lançar iniciativas independentes para resolver a crise do Iraque e o conflito entre Israel e a Palestina. E deveríamos cruzar os dedos e torcer para que a combinação de má-administração, capitalismo tipo gângster e despesas militares excessivas reduzirá o poder da América de modo que ela pare de usar o resto do mundo como se fosse o seu capacho. Só quando os EUA aceitarão o seu papel como nação cujos interesses devem estar equilibrados com aqueles das demais nações, poderemos retomar a amizade, fundada, uma vez, mesmo que brevemente, em princípios de justiça.
The Logic Of Empire by George Monbiot August 06, 2002 There is something almost comical about the prospect of George Bush waging war on another nation because that nation has defied international law. Since Mr Bush came to office, the United States government has torn up more international treaties and disregarded more UN conventions than the rest of the world has done in twenty years. It has scuppered the biological weapons convention, while experimenting, illegally, with biological weapons of its own. It has refused to grant chemical weapons inspectors full access to its laboratories, and destroyed attempts to launch chemical inspections in Iraq. It has ripped up the anti-ballistic missile treaty, and appears to be ready to violate the nuclear test ban treaty. It has permitted CIA hit squads to recommence covert operations of the kind which included, in the past, the assassination of foreign heads of state. It has sabotaged the small arms treaty, undermined the international criminal court, refused to sign the climate change protocol and, last month, sought to immobilise the international convention on torture, so that it could keep foreign observers out of its prison camp in Guantanamo Bay. Even its preparedness to go to war with Iraq without a mandate from the UN Security Council is a defiance of international law far graver than Saddam Hussein's non-compliance with UN weapons inspectors. But the US government's declaration of impending war has, in truth, nothing to do with weapons inspections. On Saturday, John Bolton, the US official charged, hilariously, with "arms control", told the Today programme that "our policy ... insists on regime change in Baghdad and that policy will not be altered, whether inspectors go in or not." The US government's justification for whupping Saddam has now changed twice. At first, Iraq was named as a potential target because it was "assisting Al-Qaeda". This turned out to be untrue. Then the US government claimed that Iraq had to be attacked because it could be developing weapons of mass destruction, and was refusing to allow the weapons inspectors to find out if this were so. Now, as the promised evidence has failed to materialise, the weapons issue has been dropped. The new reason for war is Saddam Hussein's very existence. This, at least, has the advantage of being verifiable. It should surely be obvious by now that the decision to wage war on Iraq came first, and the justification later. Other than the age-old issue of oil supply, this is a war without strategic purpose. The US government is not afraid of Saddam Hussein, however hard it tries to scare its own people. There is no evidence that Iraq is sponsoring terrorism against America. Saddam is well aware that if he attacks another nation with weapons of mass destruction, he can expect to be nuked. He presents no more of a threat to the world than he has done for the past ten years. But the US government has several pressing domestic reasons for going to war. The first is that attacking Iraq gives the impression that the flagging "war on terror" is going somewhere. The second is that the people of all super-dominant nations love war. As Bush found in Afghanistan, whacking foreigners wins votes. Allied to this concern is the need to distract attention from the financial scandals in which both the president and vice-president are enmeshed. Already, in this respect, the impending war seems to be working rather well. The United States also possesses a vast military-industrial complex, which is in constant need of conflict in order to justify its staggeringly expensive existence. Perhaps more importantly than any of these factors, the hawks who control the White House perceive that perpetual war results in the perpetual demand for their services. And there is scarcely a better formula for perpetual war, with both terrorists and other Arab nations, than the invasion of Iraq. The hawks know that they will win, whoever loses. In other words, if the US was not preparing to attack Iraq, it would be preparing to attack another nation. The US will go to war with that country because it needs a country with which to go to war. Tony Blair also has several pressing reasons for supporting an invasion. By appeasing George Bush, he placates Britain's right-wing press. Standing on Bush's shoulders, he can assert a claim to global leadership more credible than that of other European leaders, while defending Britain's anomalous position as a permanent member of the Security Council. Within Europe, his relationship with the president grants him the eminent role of broker and interpreter of power. By invoking the "special relationship", Blair also avoids the greatest challenge a prime minister has faced since the Second World War. This challenge is to recognise and act upon the conclusion of any objective analysis of global power: namely that the greatest threat to world peace is not Saddam Hussein, but George Bush. The nation which in the past has been our firmest friend is becoming, instead, our foremost enemy. As the US government discovers that it can threaten and attack other nations with impunity, it will surely soon begin to threaten countries which have numbered among our allies. As its insatiable demand for resources prompts ever bolder colonial adventures, it will come to interfere directly with the strategic interests of other quasi-imperial states. As it refuses to take responsibility for the consequences of the use of those resources, it threatens the rest of the world with environmental disaster. It has become openly contemptuous of other governments, and prepared to dispose of any treaty or agreement which impedes its strategic objectives. It is starting to construct a new generation of nuclear weapons, and appears to be ready to use them pre-emptively. It could be about to ignite an inferno in the Middle East, into which the rest of the world would be sucked. The United States, in other words, behaves like any other imperial power. Imperial powers expand their empires until they meet with overwhelming resistance. To abandon the special relationship would be to accept that this is happening. To accept that the US presents a danger to the rest of the world would be to acknowledge the need to resist it. Resisting the United States would be the most daring reversal of policy a British government has undertaken for over 60 years. We can resist the US by neither military nor economic means, but we can resist it diplomatically. The only safe and sensible response to American power is a policy of non-cooperation. Britain and the rest of Europe should impede, at the diplomatic level, all US attempts to act unilaterally. We should launch independent efforts to resolve the Iraq crisis and the conflict between Israel and Palestine. And we should cross our fingers and hope that a combination of economic mismanagement, gangster capitalism and excessive military spending will reduce America's power to the extent that it ceases to use the rest of the world as its doormat. Only when the US can accept its role as a nation whose interests must be balanced with those of all other nations can we resume a friendship which was once, if briefly, founded upon the principles of justice.
Envie
um comentário sobre este artigo
|
|